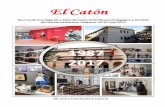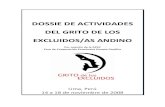(Dossie Painéis Geraldo Queiroz.pdf) · FICHAS DE INVENTARIOS DOS BENS ... Municipal, o Museu...
Transcript of (Dossie Painéis Geraldo Queiroz.pdf) · FICHAS DE INVENTARIOS DOS BENS ... Municipal, o Museu...
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
SUMARIO
SUMARIO ......................................................................................................................... 1 1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 2 2. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO ........................................................................................ 3 2.1. Aspectos gerais do Município de Uberlândia na atualidade ...................................... 3 2.1. Apontamentos históricos sobre o Município de Uberlândia ....................................... 5 3. CONTEXTUALIZAÇÃO: O VOCABULÁRIO MODERNO EM UBERLÂNDIA E REGIÃO .......................................................................................................................... 11 4. HISTÓRICO DOS BENS INTEGRADOS .................................................................... 15 5. REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 20 6. DESCRIÇÃO DOS BENS INTEGRADOS ................................................................. 23 6.1- Painel Sahtten: Avenida João Pinheiro 220, Centro ................................................ 23 Analise Iconográfica: ...................................................................................................... 24 Analise Iconológica: ........................................................................................................ 24 6.2. Painel Ciranda De Crianças: João Pinheiro nº 646, Bairro Centro .......................... 25 ........................................................................................................................................ 25 Descrição: ....................................................................................................................... 25 Analise Iconográfica: ...................................................................................................... 26 6.3. Painel Cena Portuguesa: Rua Santos Dumont nº 174, Bairro Centro ..................... 27 Descrição: ....................................................................................................................... 27 Analise Iconográfica: ...................................................................................................... 28 Analise Iconológica: ........................................................................................................ 29 6.4. Painel Indígena Brasileiro: Praça Ronaldo Guerreiro, 743, Bairro Tabajaras .......... 29 ........................................................................................................................................ 29 Descrição: ....................................................................................................................... 29 Analise Iconográfica: ...................................................................................................... 30 Analise Iconológica: ........................................................................................................ 30 7. FICHAS DE INVENTARIOS DOS BENS .................................................................... 32 8. DOCUMENTACOES CARTOGRAFICAS .................................................................. 33 9. MAPA DE LOCALIZACAO DO MUNICIPIO ............................................................... 34 10. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO ............................................................................ 35 10.1. Proposta Para Restauro: ...................................................................................... 36 10.2. Proposta Para A Remoção E Transposição Dos Painéis: ..................................... 37 11. LAUDOS TECNICOS ................................................................................................ 39 11.1. Painel Sahteen ...................................................................................................... 39 11.2. Painel Ciranda De Crianças ................................................................................... 43 11.3. Painel Cena Portuguesa ........................................................................................ 46 11.4. Painel Indígena Brasileiro ..................................................................................... 47 12. PARECER DE TOMBAMENTO ................................................................................ 49 13. Ficha técnica ............................................................................................................. 51 14. ANEXOS ................................................................................................................... 52 Parecer Técnico de sobre o tombamento ....................................................................... 53 Parecer Técnico de membro do Conselho .................................................................... 54 Cópia da Ata do Conselho de aprovação do tombamento provisório ............................ 55 Cópia da notificação ao proprietário .............................................................................. 56 Cópia da notificação ao proprietário .............................................................................. 57
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da notificação ao proprietário .............................................................................. 58 Cópia da notificação ao proprietário .............................................................................. 59 Cópia da Ata do Conselho aprovando o tombamento definitivo .................................... 60 Cópia do decreto de tombamento pelo Poder Executivo ............................................... 61 Cópia da inscrição do bem no Livro de Tombo ............................................................. 62 Cópia da publicação do Ato de Tombamento ................................................................ 63
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
1. INTRODUÇÃO
As informações apresentadas neste dossiê sobre O conjunto da obra em mosaico de vidro de
Geraldo Queiroz foram pesquisadas e organizadas a partir de um exercício proposto no âmbito da
disciplina Técnicas Retrospectivas, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de
Uberlândia-UFU, em 2008, ministrada pela professora doutora Marília M. Brasileiro Teixeira Vale. O
assunto despertou grande interesse da equipe formada pelos alunos Ana Paula Tavares, Bárbara Calaça,
Gabriela Schiavetto, Juscelino Machado Junior, Larissa Galvão, Michelle Corrêa e Lucas Martins, ao
saber da intenção do proprietário do restaurante Sahtten em solicitar a confecção do dossiê de
tombamento do respectivo painel, situado a Avenida João Pinheiro 220, Centro de Uberlândia. O
exercício propiciou também a elaboração de um projeto de pesquisa apresentado e aprovado ao curso de
Mestrado em Artes da Universidade Federal de Uberlândia, sob autoria de Juscelino Machado Junior.
Em 2009, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural de
Uberlândia- COMPHAC propôs o tombamento do painel Sahtten, portanto necessitaria da produção do
dossiê. A equipe formada por estudantes e professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Historia
da UFU- estudantes: Ana Paula Tavares e Bárbara Calaça, professores: Juscelino Humberto Cunha
Machado Junior, Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale e Josianne Francia Cerasoli se prontificou em
desenvolver o documento e dar continuidade à pesquisa, aprimorando o trabalho já realizado para ser
formalmente apresentado para apreciação e tombamento definitivo por aquele conselho. Com o
desenvolvimento do trabalho percebeu-se a necessidade de estender a proteção também aos painéis
Cena Portuguesa, localizado a Rua Santos Dumont nº 174, Bairro Centro, Ciranda de Crianças, Avenida
João Pinheiro nº 646, Centro, Indígena Brasileiro Praça Ronaldo Guerreiro, 743, Bairro Tabajaras, todos
de autoria de Geraldo Queiroz, que ainda existem na cidade e sofrem sérios riscos de desaparecimento.
Esta proposta foi apresentada ao COMPHAC em sua reunião do dia 02/07/2009 e prontamente acatada
por unanimidade. Assim, este trabalho reúne um levantamento iconográfico com descrição detalhada,
analise iconológica, histórico, diretrizes de intervenção, proposta de restauro, proposta para a remoção e
transposição, laudos técnicos e parecer de tombamento dos painéis aqui indicados e ainda traz o
histórico do município e a contextualização do movimento moderno em Uberlândia, procurando assim
atender todos os requisitos solicitados para o processo de tombamento dos bens integrados exigidos pelo
IEPHA -Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. A elaboração de dossiês de bens indicados
para tombamento atende aos dispositivos da legislação municipal referente à preservação de seu
patrimônio histórico e cultural, visando oferecer a documentação e as informações necessárias para a
apreciação final e confirmação dos tombamentos em nível municipal pelo COMPHAC.
Juscelino Machado Junior (coordenador do projeto)
Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design/UFU
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
2. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
2.1. Aspectos gerais do Município de Uberlândia na atualidade
Situada na parte central do território brasileiro, sudoeste do estado de Minas Gerais e
nordeste da microrregião denominada Triângulo Mineiro, Uberlândia parece guardar uma
característica decisiva em seu percurso: certa condição de “entreposto” ou interligação de
caminhos. Se ao longo do século XX, sobretudo a partir da década de 1950, consolidou-se
como um importante locus na logística dos transportes e nas dinâmicas econômicas e sociais
do interior do país, os espaços hoje ocupados por Uberlândia vêm servindo de ponto de apoio
há muito mais tempo, ora como passagem, ora como paragem em meio a esses vastos
espaços. Desde o início do século XVIII, vários caminhos que buscavam a ocupação do
território deixaram na região diferentes sinais. A princípio, em tempos coloniais, aparecia como
passagem para os sertanistas e geralistas que buscavam riquezas nos então chamados
“sertões”, na direção de Goiás; atualmente, Uberlândia constitui-se como um ativo
entroncamento de rotas para o interior do país, distante cerca de 500 quilômetros de
importantes centros comerciais e produtivos, além de interligada também aos portos por via
ferroviária e aeroviária.5
Geograficamente, o município de Uberlândia ocupa uma região formada por planaltos e
chapadas, em terrenos de altitudes inferiores a 1000 metros, com variadas ondulações no
relevo. Situada entre os rios Grande e Paranaíba, irrigada pelas bacias dos rios Tijuco e
Araguari (afluentes do Paranaíba) e cortada pelo rio Uberabinha (este afluente do Araguari), a
região tem a paisagem dominada pelo cerrado, entremeado por veredas, e o clima considerado
tropical6. A área de cerca de 4 mil km2 comporta os cinco distritos do município: Cruzeiro dos
Peixotos, Martinésia, Miraporanga e Tapuirama, além da sede – a cidade, propriamente dita.
Em 2009, a população do município foi estimada em cerca de 635 mil habitantes (quase o
5 Em termos rodoviários, Uberlândia está a 435 km da capital do país (rodovia BR-050); a 556 km da capital do estado, Belo Horizonte (com acesso pela rodovia BR-452); a 602 km de São Paulo (BR-050 e Rodovia Anhanguera); além desses acessos, a BR-365 liga a cidade a Patrocínio e ao norte de Minas Gerais, e a BR-497 liga Uberlândia à Transbrasiliana (BR 153, interligação rodoviária entre Rio Grande do Sul e Pará). O transporte de cargas também é feito pela malha da Ferrovia Centro-Atlântica (interligada diretamente ao porto de Santos e indiretamente ao de Vitória e Salvador).6 Coordenadas geográficas 18°55'23" de latitude sul e 48°17'19" de longitude oeste. Limita-se ao Norte com o município de Araguari, a Oeste com Monte Alegre de Minas, a Sudeste com Prata, ao Sul com Veríssimo, a Leste com Indianópolis e a Sudeste com Uberaba. Os dados geográficos e econômicos são baseados na Base de Dados Integrados da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Uberlândia, atualizados anualmente. SEPLAMA. BDI-2008. PMU, 2009. Disponível em: www.uberlandia.mg.gov.br. Acesso em novembro de 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
dobro daquela registrada em 1990)7, a maior parte no perímetro urbano. Em termos
econômicos, a população ocupa-se especialmente do setor de serviços, seguido pela indústria
e pelo setor agropecuário. A agroindústria foi um dos principais propulsores da economia da
região nas últimas décadas, tornando-a um importante centro industrial, além de desenvolver o
setor de serviços, com destaque para o atacadista e de logística. Trata-se, hoje, da maior
cidade do Triângulo Mineiro, interligada de diversas formas à microrregião e além dela.
A infraestrutura urbana e de serviços necessária para acompanhar essa dinâmica,
atualmente em expansão, tem exigido a atualização de setores como os de comunicação,
energia, transportes, saúde e saneamento, bem como aqueles relativos à educação e cultura.
Merecem menção, nesse sentido, a atuação de setores governamentais e da universidade, por
exemplo, nas áreas de saúde, educação e cultura. Entre as ações cotidianas, é significativo o
desenvolvimento de uma série de programas na área da saúde – desde o atendimento à
infância e adolescência até programas de nutrição, saúde bucal, mental, da família etc. – bem
como da manutenção de unidades de atendimento à saúde em bairros da cidade e de um
hospital de clínicas de abrangência regional. Além da Universidade Federal, responsável direta
pelo gerenciamento desse hospital, encontram-se hoje ativas em Uberlândia mais 300 unidades
escolares, entre faculdades particulares de ensino superior, escolas federais, estaduais,
particulares, escolas municipais de educação infantil e de ensino fundamental. As iniciativas
plurais no setor cultural incluem atividades ligadas a instituições formais, como o Museu
Municipal, o Museu Universitário de Arte, a programação cotidiana da Casa de Cultura e da
Oficina Cultural, além do desenvolvimento de programas de incentivo às manifestações
culturais, tais como os festivais periódicos de dança do Triângulo, entre outros. Aspectos
importantes da configuração histórica da região são periodicamente revisitados entre tradições
culturais e religiosas, como a Folia de Reis, o Congado e outras festas populares. Entre elas,
têm lugar destacado as manifestações ligadas a vários marcos religiosos no município, como a
Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, o Cruzeiro de São João Batista em
Martinésia e a Igreja do Espírito Santo do Cerrado – projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi e
tombada como patrimônio arquitetônico pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais (IEPHA).
7 634.345 habitantes, segundo as dados estimados pelo IBGE (dados de 14 de agosto de 2009). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas de População. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: setembro de 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
2.1. Apontamentos históricos sobre o Município de Uberlândia
Espaços anteriormente habitados por indígenas caiapós, segundo os registros sobre
seus inícios, os assentamentos que aos poucos constituíram o povoado originário do município
de Uberlândia remontam ao processo de colonização da América Portuguesa entre o final do
século XVII e início do XVIII. O atual Triângulo Mineiro, extremo oeste do que se chamava
Campo Geral mineiro (a oeste das regiões tradicionais de mineração), era então conhecido
como “Sertão da Farinha Podre”, e abrigava uma população pouco numerosa. Os primeiros
assentamentos portugueses nesses espaços relacionam-se à concessão de sesmarias pela
metrópole, no intuito de promover a ocupação dos vastos territórios, e também aos grupos que
partiram da capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, com a finalidade primeira de
explorar o interior do continente – ou explorar o “sertão desconhecido”, com se dizia. Nesse
contexto geral, instalam-se os primeiros núcleos não indígenas no Triângulo, inicialmente para
apoiar de diversas formas a exploração dos novos locais de mineração que se formavam na
capitania de Goiás. Essa região localizada ao norte de São Paulo, sul de Goiás e sudoeste de
Minas, despertava poucas ambições na época em que a busca por ouro e diamantes mobilizava
a ações nesses territórios. Portanto, a efetiva ocupação dessa região tem início apenas em fins
do século XVIII e início do século XIX, com os interesses voltados para a produção
agropecuária.
Distante dos órgãos da administração colonial, separado das sedes das capitanias
(depois províncias) tanto de São Vicente/São Paulo quanto das de Minas Gerais e Goiás, o
“Sertão da Farinha Podre” permaneceu por algum tempo com uma colonização esparsa. No
início do século XIX, em 1816, por determinação da Coroa Portuguesa deixa de pertencer
oficialmente a Goiás, convertendo-se na fronteira sudoeste mineira. Torna-se desse modo parte
da Comarca de Paracatu de Minas Gerais. Nessa época, a política de povoamento das regiões
não litorâneas do território figurou como uma preocupação importante não apenas em Minas
Gerais, e a partir disso incentivou-se a formação de povoados e a criação de arraiais e vilas no
“sertão”. Foi o sistema de cartas de doação de terras o principal responsável pela efetivação
dessa política, mesmo considerando que se trate de um sistema pouco preciso, pois indicava
de maneira bastante precária a localização das terras concedidas aos donatários para iniciarem
a ocupação – as referências geográficas eram em geral muito vagas, mencionando como
limites espaciais vales e ribeirões ainda não mapeados ou sequer nomeados. A relativa eficácia
do sistema parece ter sido motivada por uma importante condição: a posse das terras dependia
da efetiva ocupação das mesmas – fato que acabava por favorecer o povoamento.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Assim, pode-se dizer que o aumento da população do Brasil, sobretudo após a
organização política do Império em 1822, ligou-se a políticas articuladas e planejadas de
expansão desse povoamento para o “sertão”. Vários povoados tiveram apoio administrativo
para se constituírem no interior, de modo sistemático a partir desse período, inclusive no atual
Triângulo Mineiro. Motivados pelas concessões de terras, grupos de pessoas e famílias se
deslocam paulatinamente para esta região para tomar posse de terras, adquiri-las ou ainda para
nelas trabalhar. De acordo com registros documentais de 1820 e 1821, as primeiras
demarcações oficiais de terras em Uberlândia tiveram início em 18178. Há relatos de três
famílias que seriam provenientes de Paraopeba, próximo à Vila Rica, no intuito de aí
demarcarem posses: inicialmente os Caetano, os Alves Rezende, os Pereira da Rocha, e em
seguida os Gonzaga dos Santos, os Bravo, os Alves Pereira. Outras famílias chegaram para
trabalhar nessas terras ou comprar espaços para se estabelecerem, como os Alves Carrejo, os
Cunha, entre outras. As duas circunstâncias históricas características das origens da ocupação
daquilo que viria a ser Uberlândia – o incentivo da Coroa portuguesa e brasileira e a migração
de famílias para demarcação de posses e busca de oportunidades – são exemplares de
dinâmicas similares que ocorreram em muitas localidades do “sertão” nesse período de
ocupação.
Outro aspecto comum à formação das primeiras aglomerações em terras portuguesas
na América é a presença da Igreja Católica no estabelecimento do povoado e posteriormente
no reconhecimento da freguesia, arraial, vila ou cidade. É bastante comum na história da
ocupação do interior e de zonas de fronteira a criação de um patrimônio específico como base
para o estabelecimento de um templo no futuro núcleo urbano, comumente em honra a um
santo de devoção. O patrimônio urbano ou da capela em geral se iniciava com a doação ou
venda pelos donatários das sesmarias ou proprietários de fazendas dela originadas. Algumas
vezes o estabelecimento do patrimônio se dava a partir de duas ou mais propriedades, noutras
vezes a partir de uma única fazenda, como foi o caso de Uberlândia. Houve a mobilização de
membros da comunidade e de uma herdeira de terras na formação do patrimônio, inicialmente
doado a Nossa Senhora do Carmo e Mártir São Sebastião. A barra do ribeirão São Pedro com o
Rio Uberabinha demarcava seus limites, e acabou determinando a denominação do arraial. Ao
povoado original, que posteriormente configuraria a Uberlândia atual, chamou-se Nossa
Senhora do Carmo e São Sebastião da Barra de São Pedro de Uberabinha, ou simplesmente
Uberabinha.
No local conhecido por Fundinho, às margens do córrego São Pedro do Uberabinha,
desenvolveu-se um povoado que aos poucos passou a atrair novas famílias e, em 1842, é
8 Registros similares apontam o povoado de Desemboque, hoje distrito do município de Sacramento, como o primeiro assentamento oficializado no Triângulo Mineiro, em 1736.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
formalmente fundado o primeiro povoado às margens do rio Uberabinha. A partir disso, como
também ocorrera em numerosos povoados nesse período, a população se organiza para
edificar a primeira capela curada no local, com permissão das autoridades eclesiásticas.
Inaugurada em 1853, era uma capela simples, construída em tijolo de adobe, e o entorno foi
ocupado pelo campo santo, primeiro cemitério de Uberabinha9. A presença do templo passou a
exercer também importante papel na atração de novos grupos de pessoas à localidade, cujo
espaço foi adensado por casas e estabelecimentos comerciais. A mesma capela foi elevada a
Matriz em 1857 (mesmo ano em que o povoado foi elevado a Freguesia), sendo o templo
ampliado nas décadas seguintes. O povoado passa então a almejar sua emancipação
administrativa, reivindicando inicialmente a elevação à categoria de Vila; o documento que
justifica o pedido ao governo provincial busca valorizar as potencialidades do lugarejo:
Sessenta engenhos de cana, sete engenhos de serra, nove olarias e telhas, seis oficiais de ferreiro, quatorze oficinas de sapateiro, seiscentos carros arreados em trabalho, duzentos prédios, um cemitério, obra de pedra aperfeiçoada, uma matriz importante, contendo todos os paramentos, uma igreja do Rosário em construção, duas aulas do sexo masculino e feminino, oito aulas particulares, dez capitalistas, nove negociantes de gêneros do país e molhados, uma fonte de águas sulfurosas já acreditadas, um hotel bem montado, pedras de diversas qualidades e muitas madeiras de lei.10
Percebe-se no documento a menção a vários aspectos considerados importantes para o
estabelecimento e manutenção de núcleos urbanos em fins do século XIX no Brasil – tais como
a presença de investidores, de fontes passíveis de exploração econômica e de sustentação
política – e talvez esses dados tenham parecido convincentes aos administradores provinciais,
ainda ocupados com projetos de efetivação do povoamento, sobretudo de regiões fronteiriças.
Desse modo, em 1888 a Freguesia de São Pedro de Uberabinha foi elevada à categoria de Vila
e em seguida a Município11. Porém, a organização administrativa da nova municipalidade só foi
efetivamente iniciada três anos mais tarde, após a promulgação da Constituição do Estado de
Minas Gerais, pois o novo status coincidiu com a mudança do regime imperial pelo republicano
no Brasil – fato que acarretou alterações significativas nas hierarquias de poderes estaduais e
municipais, além de prever novas responsabilidades e dinâmicas aos municípios. Os novos
responsáveis pela administração no recém criado Município de Uberabinha – o Conselho de
Intendência – foi designado pelo governador do Estado em 1891, e a primeira Câmara
Municipal instalada no ano seguinte.
9 A Igreja do Carmo foi demolida em 1943 para dar lugar à rodoviária municipal.10 CUNHA, Antonio Afonso e SALAZAR, Aparecida Portilho. Nossos pais nos contaram: história da Igreja em Uberlândia, 1818 – 1989. Universidade Federal de Uberlândia, 1989,11 Tornou-se Vila por meio do decreto provincial nº 51, de 7 de Junho de 1888, e Município pela lei nº 4643, de 31 de agosto do mesmo ano – data em que tradicionalmente se comemora o “aniversário” de Uberlândia.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Uma série de melhoramentos urbanos, de infraestrutura e serviços, foi preparada e
implantada na cidade, de modo mais dinâmico a partir de então. Por exemplo: instalação do
primeiro relógio público na torre da Matriz (1894), construção do primeiro matadouro municipal
(1894), inauguração da Estação Ferroviária da Mogiana (1895), instalação da primeira escola
secundária (1896), circulação do primeiro jornal da cidade (“A Reforma”, 1896), fundação da
“Gazeta de Uberabinha” (órgão oficial da Câmara, 1898), instalação da Estação Telegráfica
(1899), inauguração da Empresa Força e Luz de Uberabinha (1912), organização do serviço de
transporte público intermunicipal (1913), construção do primeiro grupo escolar (Bueno Brandão,
1915). Entre eles, merecem destaque duas iniciativas, que parecem acentuar características
presentes nos primeiros tempos do povoado, mesmo que sob novo prisma: os planos
ferroviários e para instalação da a energia elétrica.
A inauguração da ferrovia, em 1895, pode ser considerada um incentivo – efetivo e
mesmo simbólico – ao desenvolvimento de Uberabinha, por facilitar a comunicação da cidade
com grandes centros urbanos. A Mogiana parece ter reforçado as relações empreendedoras da
região com São Paulo e espaços limítrofes – relações estabelecidas inicialmente pela presença
dos sertanistas paulistas nesse território. Apesar das projeções iniciais de extensão dos trilhos
até o extremo oeste brasileiro, facilitando a sonhada interligação entre os oceanos Atlântico e
Pacífico, a Mogiana parou seus trilhos em Araguari12. Porém, o estreitamento dos contatos com
outras regiões e outros projetos parece ter deixado ainda novas pautas para os
empreendimentos na região, indo além dessa interrupção dos trilhos. É significativo nesse
sentido que a iniciativa da instalação da rede de energia elétrica tenha novamente revisitado as
relações do Triângulo com outros centros, sendo obra de uma sociedade autônoma com sede
em São Paulo. Talvez essas relações ainda mereçam ser melhor estudadas, mas seguramente
deixam para o presente pistas para se compreender uma das características importantes do
percurso da cidade: certa condição de “entreposto” ou interligação, como afirmado inicialmente
– interligação simbólica e também materializada, por meio de investimentos plurais13.
As transformações em Uberabinha – denominada Uberlândia a partir de 1929 –
continuam nas décadas seguintes, acentuando-se na década de 1940 quando algumas fábricas
foram instaladas na cidade e intensificaram-se as atividades comerciais, tanto internamente
quanto no contato com outras regiões. A Inauguração do edifício do Mercado Municipal (1944)
liga-se também a esse contexto. Foi, todavia, na década seguinte que o intenso
12 Entre os vários planos de interligação transcontinental idealizados desde meado do século XIX, um estudo chegou a ser feito no período em que os trilhos chegavam ao Triângulo, na década de 1890, para ligação ferroviária entre Uberaba e Coxim (Mato Grosso), e a partir daí, de modo integrado, com hidrovias e ferrovias, a partir da Mogiana.13 São também da mesma época os primeiros estudos para a abertura de caminhos rodoviários na região, além de diversos projetos de pontes e viadutos.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
desenvolvimento econômico e social em Uberlândia encontrou um decisivo respaldo nas
políticas desenvolvimentistas nacionais, com a retomada dos projetos de transferência da
capital federal para o interior do país e os investimentos rodoviários e de infraestrutura a eles
relacionados. A construção de Brasília marcou a cidade de Uberlândia nas décadas de 1950 e
1960, de certo modo, reposicionando-a estrategicamente em relação aos principais centros
industriais e comerciais do Brasil. Para acessar a nova capital, Uberlândia passou a ser um
ponto importante para os caminhos provenientes do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São
Paulo, sublinhando-se mais uma vez o potencial comercial e logístico da região – ou, em outras
palavras, reatualizando-se a condição de “entreposto” ou interligação de caminhos. A partir das
décadas de 1970 e 1980, de certo modo, configuram-se como desdobramentos dessas
transformações de meados do século XX, atuando ainda de modo decisivo sobre a visibilidade
da cidade como espaço de oportunidades e, conseqüentemente, refletindo no aumento
populacional no período.
Interligação de caminhos, espaço de oportunidades e investimentos, “entreposto” ou
simplesmente “terra fértil”: pode-se dizer que essas características, reiteradas de modo variado
e descontínuo, de alguma maneira passaram também a integrar certa identidade da região ao
longo desse percurso. De forma indireta, mas significativa, um tema em pauta na cidade nas
décadas de 1910 e 1920 pode relacionar-se a essa identidade. Trata-se da ideia de que o nome
Uberabinha guardaria implicitamente uma desconfortável comparação com Uberaba, pela
possível associação ao diminutivo do nome da cidade então mais importante no Triângulo
Mineiro. Entre as cogitações para um novo “batismo” para a cidade, originária de antigos
caminhos para a busca de riquezas, apareceram ideias como “Maravilha”, mas os argumentos
em prol da adequação da designação da cidade aos supostos “desígnios” que a lançariam ao
futuro soou mais convincente. Ao que parece, pelo menos para aqueles que tinham o poder de
decisão na administração municipal, uma cidade que se lançava ao progresso não poderia ser
uma “pequena Uberaba”; deveria, ao contrário, originar o novo, projetar-se ao novo: como uma
terra fértil, Uberlândia.14.
14 Designação oficial determinada pela lei municipal n° 1128, de 19 de outubro de 1929.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
3. CONTEXTUALIZAÇÃO: O VOCABULÁRIO MODERNO EM UBERLÂNDIA E REGIÃO
No Brasil, a arquitetura moderna se inicia a partir do final da década de 1920, mas seu
auge nos grandes centros ocorre a partir de 1950. Os arquitetos brasileiros tiveram influência,
principalmente européia, na imagem de Le Corbusier, mas rapidamente seguiram um caminho
próprio, e com isso a arquitetura adquiriu um caráter nacional.
A produção moderna brasileira recebeu destaque internacional, principalmente pelo
desenvolvimento de inovadora técnica de controle de luz e calor, através do brise-soleil. Sua
particularidade também estava no desenvolvido uso do concreto armado e na incorporação de
outras manifestações artísticas, valorizando inclusive tradições da arquitetura colonial, como o
uso de painéis de azulejos de autoria de importantes artistas, como por exemplo, Cândido
Portinari.
Vários autores nacionais e internacionais consideram que a Arquitetura Moderna
produzida no Brasil foi, sem dúvidas, nacional, refletindo os artistas que a lançaram e
recorrendo aos materiais disponíveis, assim como se ajustando ao clima. Nas regiões
interioranas, a introdução da nova linguagem moderna se fortaleceu tardiamente, na década de
1960, sendo este o caso do Triângulo Mineiro, região em que se encontra a cidade de
Uberlândia.
A região se beneficiou da construção de Brasília (1957-60) para seu desenvolvimento. A
nova capital federal trouxe a modernidade e o progresso que o governo apregoava,
incorporados tanto no planejamento urbano e na arquitetura como no imaginário cultural da
população. Novas técnicas construtivas, nova plástica, novos usos do espaço, novos modos de
morar. Essa arquitetura moderna produzida participou e foi conseqüência do rápido
desenvolvimento urbano das cidades interioranas, as quais receberam edifícios residenciais,
clubes, instituições públicas e privadas, indústrias, praças, vilas que se implantaram no espaço
e foram incorporados fortemente à identidade visual e histórica da região. É o caso do edifício
Uberlândia Clube e da Praça Tubal Vilela, ambos situados na cidade de Uberlândia.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Fig.III Praça Tubal Vilela, de 1962 – Autor: Arquiteto João
Jorge Coury – Uberlândia, MG.
Fonte: Núcleo de Teoria e História da Faculdade de
Arquitetura, Urbanismo e Design - UFU
Fig.II Hall de entrada com painel do artista plástico
José Machado de Moraes - Uberlândia Clube
Sociedade Recreativa - Uberlândia, MG.
Fonte: Núcleo de Teoria e História da Faculdade de
Arquitetura, Urbanismo e Design - UFU
Fig.I Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, de 1957 – Autor: Engenheiro Almôr da Cunha – Uberlândia,
MG.Fonte: Núcleo de Teoria e História da Faculdade de
Arquitetura, Urbanismo e Design - UFU
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Especificamente em Uberlândia, a linguagem moderna foi introduzida na década de
1950, época em que ocorreram transformações urbanas de grande importância, decorrência do
grande crescimento do município e da inauguração de novos empreendimentos, resultando
num processo de urbanização periférica, marcada pela especulação imobiliária e por interesses
políticos. Foi ainda nesta década que a área central da cidade sofreu fortes modificações,
passando por uma série de melhorias na infra-estrutura e iniciando seu processo de
verticalização.
O arquiteto João Jorge Coury15 foi uma figura de essencial importância dentro deste
contexto, considerado difusor da linguagem moderna na região. Em 1940, dirigiu-se para
Uberlândia onde se fixou e traçou uma bela produção em tipologias residenciais, comerciais,
urbanísticas, hospitalares e industriais. Sua arquitetura associava os elementos modernos ao
caráter regional, com uso de lajes planas, brises, cobogós conciliados à fitocerâmica, os seixos
rolados, a granitina, a pedra portuguesa, etc. Era em seu atelier que intelectuais de diversos
ramos profissionais se reuniam, valendo-se de discussões dentro do contexto político e dos
fatos da época. Coury foi uma espécie de arquiteto-mestre, estimulando o interesse de jovens
arquitetos e artistas como foi o caso de Geraldo Queiroz.
Queiroz trabalhou em conjunto com Coury em diversos projetos como o painel parietal
extinto na residência Benedito Modesto (1954), demolida em 2009 e que se localizava a Rua
Machado de Assis entre as Avenidas João Pinheiro e Afonso Pena, residência Waldemar Silva
(1957), dentre outras, onde uma das características mais significativas da arquitetura moderna
brasileira – o uso de painéis decorativos – pôde ser mais facilmente realizada pela colaboração
deste artista local, dentre outros. O trabalho em conjunto era importante para destacar as
produções, tanto artísticas quanto arquitetônicas, foi muito empregado nos projetos
modernistas, principalmente dos arquitetos cariocas, como grandes afrescos confiados a
artistas de renome. Uberlândia e região, por meio de atuações de artistas e arquitetos como
Geraldo Queiroz e Jorge Coury, insere-se no debate internacional acerca da síntese das artes,
discutida por Le Corbusier, Lucio Costa, dentre outros.
É importante salientar que apesar da evidenciada importância do Movimento Moderno
na região, sua produção, em destaque na cidade de Uberlândia, tem recebido pouca atenção
com vistas à sua preservação, principalmente no âmbito residencial, onde a maior parte dos
painéis mencionados neste dossiê estão integrados. Hoje, essas residências, já com outros
usos, passam por constantes reformas e adaptações, ocasionando perdas e degradações nas
15 Nascido em Abadia dos Dourados/MG em 1908, formou-se em 1937 pela Escola de Arquitetura de Belo Horizonte (EABH). Iniciou sua carreira em Goiandira e Catalão, no Estado de Goiás. Traçou uma bela produção em termos residencial, comercial, urbanístico, hospitalar e industrial.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
obras artísticas integradas ao edifício. Da numerosa produção16 artística de Geraldo Queiroz na
região, restam apenas os quatro painéis em mosaico de vidro aqui explicitados, os quais
também sofrem sérios riscos de desaparecimento.
A salvaguarda da produção moderna, não somente em Uberlândia e região como em
todo o país, tem encontrado dificuldades devido, principalmente, a proximidade temporal de sua
produção. A população desconhece a importância do Movimento Moderno para a história
nacional e ainda não vê essa produção como patrimônio a ser preservado, assim como é,
dentre outras, obras coloniais, barrocas e neoclássicas, expressões de uma cultura passada e
remota.
A demora na efetivação das medidas de salvaguarda pode ocasionar, em ultima
instância, uma demolição indesejada e irreversível para a construção da memória cultural de
uma cidade ou comunidade. Entendemos que sem o reconhecimento do usuário e sem o apoio
dos órgãos públicos essa arquitetura/arte não poderá ser preservada.
4. HISTÓRICO DOS BENS INTEGRADOS17
O desenvolvimento da cidade de Uberlândia foi caracterizado por uma ideologia
progressista, visto que obteve crescimento urbano significativo, se comparado a outros núcleos
na mesma região. Este fato deve-se a influencia de uma elite forte, principalmente grandes
proprietários de terra, cujas ambições contrastavam com as dimensões e a dinâmica da cidade
(SOARES, 1995). Apesar de serem essencialmente rurais, os grandes proprietários
vislumbravam no meio urbano, lucros maiores que o rural, atividade rentável na época (final do
século XIX). Mesmo afastada de centros urbanos e ainda Uberlândia não ser sede de governo,
o que caracterizou o boom no crescimento da cidade é o fato da construção do terminal de
Uberabinha da Estrada de Ferro da Companhia Mogiana. Temer (2001) alega ser por
influencias das elites locais, questões políticas, que a ferrovia e o terminal se instalou na cidade.
A ferrovia era na época sinônimo de progresso, e foi essa a imagem que se passou a imprimir
na cidade.
16 Sabe-se pela pesquisa que houve uma extensa produção do artista, porém não se pode quantificá-la.17 Não foi possível fazer um levantamento histórico detalhado de cada bem integrado de maneira isolada, pois com a constante comercialização dos imóveis, muitos já não pertencentes às famílias ou proprietários já falecidos, e, portanto, sem informações a respeito, segundo os descendentes. Assim o mesmo foi elaborado conforme a recomendação para elaboração de dossiês no site do IEPHA/MG, relacionando-o ao município, identificando e analisando sua importância na evolução local. É importante ressaltar que os painéis estão inseridos em uma arquitetura de caráter modernista, projetada pelo arquiteto Jorge Coury.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Entre os anos de 1907 e 1908, a cidade necessitava de um plano de expansão, que
ficou a cargo do engenheiro Mellor Ferreira Amado, que imprimiu ao projeto um traçado
ortogonal em forma de tabuleiro de xadrez, escolhido justamente pelo fato de comunicar uma
visão moderna e progessista, estendendo-se do bairro Fundinho, antigo núcleo, ate a Estação
Ferroviária, onde atualmente se encontra o Fórum da cidade.
“As mudanças visavam, sobretudo, a adequar a forma urbana às possibilidades de acumulação do capital, de modo que a cidade simbolizasse o progresso, indicativo das novas condições econômicas implementadas pela atividade comercial. Para atingir esse objetivo, era necessário criar uma nova concepção de cidade e de sociedade, pela qual seriam impostos aos seus personagens novos valores, atitudes e comportamentos, que, sem dúvida, criariam uma nova urbanidade” (SOARES, 1995).
Com as políticas de interiorização do país, a partir da década de 1940, no governo de
Getulio Vargas, e a construção de Brasília, na década de 1950, o desenvolvimento
uberlandense foi impulsionado pela Fundação Brasil Central, reafirmando a tentativa de
transmitir a identidade de uma cidade moderna. Novas estradas foram abertas, conectando o
Centro-Oeste ate as áreas mais populosas do litoral, fazendo, conforme Oliveira 2000, com que
a cidade tornasse um entroncamento viário, auxiliando na afirmação do pólo comercial. A
população local entre os anos de 1947 e 1958 passou de 31.850 para 64.660 habitantes
(SOARES, 1995); e juntamente com o crescimento populacional crescia o discurso
progressista.
Na década de 1920, tem inicio uma concentração, na Praça Tubal Vilela e na Avenida
Afonso Pena, de estabelecimentos comercias, bancos e cafés, consolidando o processo de
deslocamento em direção ao nordeste.
Nas décadas posteriores o centro da cidade começa a ser estruturado, com a
configuração da Praça Tubal Vilela e Avenidas como centro do comércio e da sociedade, com
destaque para as residências da elite na João Pinheiro, sendo que até 1940 ainda havia poucos
bairros.
Na década de 1950 são feitos muitos investimentos na área central da cidade, com o
embelezamento das avenidas e com investimentos em asfaltamento, arborização e iluminação
pública.
A Avenida João Pinheiro, na época, era considerada a mais nobre e sofisticada da
cidade, onde eram construídas as residências mais ricas e luxuosas. Neste contexto, é que
surgem varias residências unifamiliares de caráter modernista, projetadas, principalmente por
Jorge Coury, como dito na contextualização do movimento moderno em Uberlândia e região
apresentadas anteriormente neste documento, e onde também surge uma importante parceria
com Geraldo de Queiroz (1916-1958). O artista, que era autodidata e fundador da primeira
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
escola de arte da cidade, é conhecido por sua habilidade em trabalhar com as cores,
característica forte em suas obras “[...] Geraldo Queiroz é reconhecido pela sua sensibilidade de
se relacionar com as cores, as formas, as linhas e os volumes [...]”18
Sem nenhuma formação artística, Geraldo Queiroz, desenvolveu trabalhos em diversas
técnicas, como modelagem de bustos em cera com posterior fundição em bronze; cenários para
peças de teatro; óleo sobre tela e aquarela; alem de painéis em mosaico de pastilhas de vidro.
“Dentre suas obras estão os murais de pastilhas nas residências de Geraldo Oliveira na Av. Rio Branco), Garcia (na Rua Santos Dumont), Ubirajara Zacarias (na Rua XV de Novembro) e também na residência onde mora atualmente Luiz Ferreira (na Rua João Pinheiro).”19
18 Jornal Correio de Uberlândia de 5 de março de 1985. 19 Ibidem.
Fig.IV O artista plástico Geraldo Rodrigues de Queiroz
entre os participantes, dentre eles o arquiteto Jorge Coury
e o artista Ido Finotti, no Salão de arte em Uberlândia
(21/10/1946)
Fonte: Arquivo Família Queiroz.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Muitas vezes, o artista era contratado por uberlandenses para retratar, através da
técnica do mosaico, as raízes das famílias uberlandenses, muito comum naquela época, como
exemplo, tem-se o painel parietal feito na casa de Oswaldo Garcia, Rua Santos Dumont nº 174,
Centro, nesse painel ele retratou mulheres portuguesas em trajes típicos e colunas que aferiam
a um teatro em Portugal.
Na década de 1950, Geraldo Queiroz fundou, com o apoio da administração municipal
de Afrânio Rodrigues da Cunha, a primeira escola de arte da cidade. O artista deixou trabalhos
em Uberlândia e região, além de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além de artista,
Queiroz também era um crítico e mesmo um autocrítico e escreveu artigos sobre criticas de
arte.
“Homem de idéias avançadas, escrevia artigos sobre artes plásticas onde defendia o surgimento de uma escola de pintura realmente brasileira” 20.
Além das artes, Queiroz dedicou grande parte de sua vida às causas políticas, sendo
atuante dentro do Partido Comunista, e por isso chegou a ser preso inúmeras vezes. Por muitos
anos ele trabalhou como jornalista do jornal comunista “A Voz do Povo”, praticamente como
voluntário, pois ganhava muito pouco (salário mínimo). Geraldo praticava artes plásticas apenas
como um “passatempo”, até que seu potencial artístico foi reconhecido e valorizado por José de
Morais, que foi escalado para confeccionar o mural do Uberlândia Clube (mencionado aqui
anteriormente) sendo um artista influente.
20 Jornal Correio de Uberlândia de 7 de março de 1987.
Fig.V O artista plástico Geraldo Rodrigues de Queiroz.
Fonte: Arquivo Família Queiroz.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Segundo seu filho, Wladimir, Geraldo conheceu José de Moraes através do partido
comunista, do qual ambos faziam parte. Quando Moraes veio à Uberlândia, contratado para
fazer o painel do Uberlândia Clube, procurou no partido alguém que pudesse ajudá-lo, e
conheceu então Geraldo Queiroz.
“Ele também se sobressaiu nos murais. Convivendo com seu contemporâneo José de Moraes, adquiriu novas técnicas, que somadas a sua sensibilidade, contribuíram ainda mais para o enobrecimento das artes plásticas em Uberlândia.” 21
Geraldo Queiroz, que até então era jornalista, foi descoberto por Moraes, que pediu que
ele fosse dispensado do partido para dedicar-se somente às artes, podendo então, nos seus
últimos anos de vida (1955, 1956 e 1957), produzir um considerável acervo de importantes
obras, dentre elas, os painéis.
A casa de José Naves de Ávila (filho de João Naves de Ávila), onde está localizado o
restaurante Sahtten, foi construída entre 1940 e 1957, ano em que foi encomendado um painel
que retratava a fazenda de João Naves de Ávila, em Cruzeiro dos Peixotos. O imóvel em
questão apresentava uma área de 380,14 m2 dispostos em um terreno de 13 metros de frente
por 28,5 metros de fundos. A residência passou por diversas modificações e adaptações para
abrigar um estabelecimento comercial e hoje já não é possível identificar sua configuração
original. Com o falecimento de José Naves de Ávila, o imóvel foi adquirido por herança por
Maria Paula Naves, em 22 de outubro de 1998. O painel encontrado pela família Naves (1957)
é uma obra de Geraldo Rodrigues Queiroz22. De acordo com Wladimir Queiroz, filho do artista
Geraldo Queiroz, o projeto do painel do restaurante Sahtten é de autoria de seu pai. Entretanto
não foi encontrado nenhum croqui feito pelo artista que comprovasse esta autoria, porém, por
um estudo iconográfico e técnico mais detalhado, poderia se comprovar se realmente é de
Geraldo Queiroz.
21 Jornal Correio de Uberlândia de 5 de março de 1985.22
Tem-se informações que este painel foi executado com a colaboração de Jose de Moraes
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
5. REFERÊNCIASReferências documentais (fontes de pesquisa)
ARANTES, Jerônimo. Cidade dos sonhos meus: memória histórica de Uberlândia. Uberlândia: EDUFU, 2003.
BEGUIN, François. Maquinarias inglesas do conforto.
CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Disponível em: <HTTP://www.camarauberlandia.mg.gov.br/conteudo.php?mid=2&url=prefeitura.> Acesso em: 12/122008
CHIARELLI, Tadeu. Arte internacional brasileira. 2 ed. São Paulo: Lemos editorial, 2002.
CUNHA, Antonio Afonso e SALAZAR, Aparecida Portilho. Nossos pais nos contaram: história da Igreja em Uberlândia, 1818 – 1989. Universidade Federal de Uberlândia, 1989, 552p.
DANTAS, Sandra Mara. A fabricação do urbano. Civilidade, modernidade e progresso em Uberlândia/MG (1888-1929). Tese (Doutorado em História e Cultura Social), Franca: UNESP, 2009.
FERREIRA, Ângela Lúcia et al. Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal – 1850 a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008.
FONSECA, Maria de Lourdes Pereira. Forma Urbana e Uso do Espaço Público. As Transformações do centro de Uberlândia, Brasil. Tese de Doutorado em Urbanismo, Universidad Politécnica de Cataluña, Bracelona, 2007.
GOIS JUNIOR, Edivaldo; LOVISOLO, Hugo. Descontinuidades e Continuidades do movimento higienista no Brasil do século XX. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, vol. 25, nº 1, set. 2003.
GUIMARÃES, Eduardo Nunes. A Influência Paulista na Formação Econômica e Social do Triângulo Mineiro. [S.I], [S.n], [200-?], 20p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de População. Disponível em: www.ibge.gov.br.
LA ROCCA, Renata. Arte da Memória e Arquitetura. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de Urbanismo. Departamento de Arquitetura r Urbanismo, 2007.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
LAURENTIZ, L. Olhando as arquiteturas do cerrado. Projeto, São Paulo, n.º 163, p. 75-91, mai. 1993.
LENHARO, Alcir. Colonização e Trabalho no Brasil: Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste - os anos 30. Campinas: Ed. Unicamp, 1985.
LEWIS, Alfred. Água para o mundo: problemas atuais e futuros do abastecimento de água. Rio de Janeiro: Record, 1965.
LIMA, Diogo Renan Simões de. Extrato de Trabalho apresentado para conclusão da disciplina APT 80 – Introdução ao Trabalho Final de Graduação: Mercados Públicos: identidade regional no mundo globalizado. Julho 2008
MARINS, Paulo. Habitação e vizinhança: limites da privacidade no surgimento das metrópoles brasileiras. In: SEVCHENKO, N. História da vida privada no Brasil. São Paulo, Cia. Das Letras, Vol. 3, 1998.
MARTINS, C. A. F. Arquitetura e Estado no Brasil: Elementos para uma Investigação sobre a Constituição do Discurso Modernista no Brasil; a Obra de Lúcio Costa. São Paulo. Dissertação (Mestrado) – FFLCH – USP (1º. Capítulo), 1988.
MARX, Murillo. Cidade no Brasil, em que termos? São Paulo: Studio Nobel, 1999.
MORAIS, Frederico. Azulejaria Contemporânea no Brasil. Volume 2 São Paulo: Editoração Publicações e Comunicação, 1990.
MOTA, André. Sanitarismo e eugenia no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. Tradução de Neil R. da Silva. 3ª ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
NEUTRA, Richard. Arquitetura Social - em países de clima quente. São Paulo, Gerth Todtmann, 1948.
PEZZUTI, Pedro. Município de Uberabinha. Livraria Kosmos, 1922.
PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Disponível em: <http://www3.uberlandia.mg.gov.br/cidade_historia.php.> Acesso em: 12/12/2008
PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Disponível em: <http://www3.uberlandia.mg.gov.br/secretaria.php?id_cg=591&id=10.> Acesso em: 12/12/2008
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
REDUCINO, Marileusa de Oliveira. Alinhavos históricos entre poder e povo: uma análise sobre o olhar da imprensa uberlandense. In: Olhares e Trilhas. Uberlândia, Ano VI, n. 6, 2005.
RIBEIRO, P. P. A. Arquitetura Moderna em Uberlândia. Caderno de Arte UFU, Uberlândia, v. único, p. 169-180, 1998.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE (SEPLAMA). Banco de Dados Integrado-BDI, 2008. Prefeitura Municipal de Uberlândia, 2009. Disponível em: www.uberlandia.mg.gov.br.
SILVA, Antonio Pereira da. As histórias de Uberlândia: volumes 1, 2 e 3. Uberlândia, 2002.
SOARES, Beatriz Ribeiro. Habitação e produção do espaço em Uberlândia. Universidade Federal de São Paulo/ Departamento de Geografia. São Paulo. 1988.
TEIXEIRA, Tito. Bandeirantes e Pioneiros do Brasil Central: História da criação do município de Uberlândia. Revista Uberlândia Gráfica. Uberlândia, 1970.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Instituto de Economia. Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES). Uberlândia – Painel de Informações Municipais, 2006. Uberlândia, Agosto de 2006. Disponível em: http://www.ie.ufu.br/cepes
Jornais
Correio de Uberlândia (1954-1955) (1985-1988)
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
6. DESCRIÇÃO DOS BENS INTEGRADOS23
6.1- Painel Sahtten: Avenida João Pinheiro 220, Centro
Descrição:
– Composição Figurativa De Produção Popular.
O painel está instalado no muro de divisa lateral direita do edifício, aberto ao salão
central do restaurante por meio de uma clarabóia. Não há interrupções à vista do painel se não
as mesas do restaurante, que não agridem a percepção total da obra. No mais, o próprio
23 As analises iconográficas aqui tratadas foram compiladas dos Inventários de proteção do acervo cultural-Minas Gerais- realizados em 2004. As analises iconológicas ainda não estão sistematizadas, pois se encontram, no presente momento, em fase pesquisa e estudos feitos pelo coordenador Juscelino Machado Junior, no curso de Mestrado em Artes da UFU.
Fig.VI Painel Satten
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de 2008.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
edifício possibilita a visão do painel por vários ângulos e perspectivas, de modo a se ter uma
fácil compreensão deste de diversos pontos do interior e do exterior do restaurante.
Estilisticamente, o painel é de composição figurativa e de produção popular. Possui
formato amebóide e ocupa aproximadamente 18m2 da parede, com 5.50m de largura e 3.30m
de altura máxima. A técnica utilizada pelo autor foi o mosaico em pastilhas de vidro coloridas,
de 2.5 x 2.5cm, assentadas sobre cimento branco. Exteriormente ao painel, o revestimento da
parede é feito em pedra São Tomé retalhada.
Analise Iconográfica:
O painel figurativo em perspectiva apresenta como tema o campo, ou seja, o ambiente
rural. Compreende uma fazenda, com relevo ao horizonte, as edificações e animais. Podem–se
configurar três planos representativos: o plano de fundo (ou terceiro plano), que alinha-se à
visão do observador e onde encontram-se as casas, o curral e alguma vegetação de entorno; o
primeiro plano onde as estão figuras de gado, sendo estes dois bois malhados que repousam
sobre o pasto, à esquerda, e dois, mais ao longe, à direita.
A harmonia das cores se dá pela utilização do azul, verde, amarelo e rosa em várias
tonalidades, além da cor preta e branca, estas ultimas, usadas como valores.
Predominantemente, encontram-se os tons de azul e verde no plano de fundo, azul, rosa e
amarelo no plano intermediário e tons de verde, ocre e branco no primeiro plano. O preto está
inserido nos galhos de árvores, cercas e em alguns contornos.
Analise Iconológica:
O painel envolve a questão relacionada ao ruralismo, ainda marcante na economia local
da época, caracterizando também o poder respaldado pelos fazendeiros e coronéis.
A cena representada remonta ao bucolismo e calmaria da natureza. Essa percepção se
dá principalmente pelo plano de fundo, com montanhas na cor ocre, mata na cor verde claro e o
céu que mistura tons claros e escuros de azul, além de nuvens brancas. Na parte central,
demonstrando maior importância, localiza-se um casarão, sem muitos detalhes de fachada, nas
cores azul, cinza e telhado mesclando o rosa claro e o marrom. Provavelmente, esta é a casa
do fazendeiro Naves, pois é evidente sua hierarquização em face dos outros elementos, como a
casa menor à esquerda, com o telhado nos mesmos tons, mas diferenciando a fachada com
uma maior mistura de cores, diminuindo sua harmonia e beleza e nos indicando sua menor
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
importância. Neste mesmo plano, ainda vemos uma cerca na cor preta, árvores de fundo e o
chão na cor ocre, que faz nítida separação entre o pasto, na cor verde em tons claros e
escuros, do primeiro plano. Neste, encontram-se quatro bois malhados. Os dois primeiros em
destaque repousam sobre o pasto e são coloridos em tons de marrom, rosa e contorno preto.
Mais ao lado e distante, à direita, encontram-se outros dois bois em pé e pastando.
6.2. Painel Ciranda De Crianças24: João Pinheiro nº 646, Bairro Centro
Descrição:
– Composição Figurativa De Produção Popular.
Painel figurativo com imagem do cotidiano. O painel em pastilhas de vidro cobre a
extensão da parede medida de 4,70m até a altura de 2,15m. Na porção central, compõe uma
ciranda com sete crianças. Destas, duas estão de frente, três estão de costas e as outras duas
de perfil. Em segundo plano, uma fogueira e motivos geométricos coloridos, em tons de azul,
rosa, verde, cinza e bege. Na lateral direita, um estandarte de festa junina com a imagem de
São João com um cordeiro nos braços.
24 Devido ao fato deste painel estar em local de difícil acesso fotográfico, a fotomontagem apresenta distorções de cores e formas, não compreendendo a real situação do mesmo.
Fig.VII Painel Ciranda de Crianças - Fotomontagem
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro 2009
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Analise Iconográfica:
O painel é composto por imagens de ciranda de roda na sua maior parte, à direita,
motivo junino, e ao fundo, motivos geométricos. Na cena principal, a primeira menina na parte
mais central da roda está de frente, com rosto redondo, cabelos escuros, usa vestido azul com
bainha branca, sapatos brancos e meias verdes. À sua esquerda, menina de perfil, com rosto
redondo inclinado à sua direita, com cabelo castanho e curto, preso com “rabo de cavalo” e fita
branca. Usa vestido branco, gola em decote em “V”, com manga e bainha azuis, laço na cintura,
sapatos vermelhos e meias brancas. À sua esquerda, uma menina de costas, com a cabeça
voltada no mesmo sentido. Ela tem os cabelos claros no ombro, veste blusa vermelha, saia
verde com listra vermelha acima da bainha, sapatos pretos e meias brancas. À sua esquerda
um menino de costas, com o pé direito apoiado no chão e o esquerdo no ar. Ele usa camisa
azul e bermuda preta com suspensório preto, sapato preto e meias brancas. À sua esquerda,
outro garoto, também de costas mas com a cabeça levemente inclinada. Suas roupas são
iguais ao anterior, com o suspensório verde. À sua esquerda uma menina de perfil, com rosto
inclinado, cabelos pretos amarrados, vestido branco com detalhes azuis, sapatos vermelhos e
meias brancas. À sua esquerda, fechando a roda, uma garota com o corpo e cabeça voltados
para sua esquerda. Ela tem os cabelos claros, amarrados, usa vestido azul de detalhes
vermelhos e botas brancas. Ao fundo da ciranda, na porção superior, a composição geométrica
é definida por uma faixa verde e na porção inferior, por uma faixa azul escuro. Entre as faixas,
geometria assimétrica maciça composta com tonalidades azul claro, verde e bege.
Analise Iconológica:
O painel remonta a tradicional festa junina muito celebrada na região. Este mural pode
ser enquadrado dentro de uma vertente de criação espontânea do artista, já que era habito do
mesmo retratar os filhos em situações cotidianas como as brincadeiras. Assim, buscou-se
retratar o cotidiano como a ciranda de roda e o regionalismo representado pela festa junina. O
regionalismo como tema marca o desejo de criação de uma arte nacional, que, segundo Tadeu
Chiarelli (2002), até o final da II Grande Guerra, a arte brasileira mais valorizada era aquela
preocupada em caracterizar as peculiaridades locais, já num momento tardio, neste caso, que
data da segunda metade da década de 1950. Os símbolos representados como a fogueira,
fazem alusão a proteção e purificação do local onde está instalada e o mastro referencia a
devoção e agradecimento ao santo. A ciranda também tem uma conotação importante, pois se
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
trata de uma dança infantil popular que não requer muita destreza e seu ritmo permite a
participação de pessoas de várias idades.
6.3. Painel Cena Portuguesa: Rua Santos Dumont nº 174, Bairro Centro
Descrição:
– Composição Figurativa De Produção Popular.
O painel está situado na parede frontal da fachada e ocupa toda a extensão da mesma,
cobrindo-a do roda-teto em gesso até o roda-pé em cerâmica. A imagem figurativa do painel se
localiza na parte central, delimitada por contorno sinuoso nas laterais e porção inferior,
alinhando-se com o roda-teto. O restante é revestido em miscelânea de pastilhas azuis e
Fig. VIII Painel Cena Portuguesa
Fonte: fotografia retirada do Inventário de proteção do acervo cultural-Minas Gerais- realizado em
2003.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
brancas. Essa parte figurativa divide-se em três cenas: um pescador na lateral à esquerda, um
vendedor ao centro e um casal de dançarinos na lateral direita. A imagem do pescador
apresenta ao fundo céu azul, nuvens brancas e mar em tons de verde. Já nesta parte começa
aparecer a arcada, que emoldura as cenas restantes. A porção central, ao fundo do
comerciante, é caracterizada por edificação de estilo clássico. Na lateral direita, o casal repousa
sobre piso quadriculado nas cores marrom e amarelo e, ao fundo, vê-se o prolongamento da
arcada com colunas clássicas.
Analise Iconográfica:
O painel possui formato retangular, porém na construção da imagem observa-se
delineamento da mesma em formato amebóide. Ocupa aproximadamente 27,5m2 medindo
3,55m de altura por 7,80m de largura. A técnica utilizada pelo autor foi o mosaico em pastilhas
de vidro coloridas, de 2 x 2cm, assentadas sobre cimento branco.
O painel figurativo é composto por três cenas à frente e fundos variados. No primeiro
plano, à esquerda, tem-se a figura de um jovem sobre um conjunto de pedras marrons, com o
corpo frontal levemente inclinado, cabeça em perfil voltada para a direita e mão direita
segurando um jequi, com o cesto para cima e a haste apoiada sobre as pedras. O jovem está
de chapéu escuro e veste casaco claro que se estende até os joelhos. O cenário ao fundo é
composto pela linha do horizonte, dividindo-o em plano inferior com colorações de verde-água e
branco, induzindo movimento do mar, e plano superior com coloração gradativa do branco ao
azul anil.
A imagem central apresenta, em primeiro plano, uma figura masculina de meia-idade,
inclinada para direita, com a cabeça na posição frontal e rosto arredondado. Está vestido com
camisa branca, colete e chapéu pretos. Suas mãos estão apoiadas num balcão volumétrico nas
cores azul e branco, sobre o qual estão algumas frutas. Ao fundo nota-se uma edificação de
estilo clássico, emoldurada por um arco pleno que se estende até a extrema direita.
Na lateral direita, um casal com roupas típicas de Portugal, sob a continuação da
arcada, com uma vegetação densa verde ao fundo e flores a frente. Ao fundo, céu azul. A figura
feminina de meia-idade está na posição frontal e com a cabeça voltada para a figura masculina.
A mulher apresenta rosto com formato oval e chama atenção à sua boca de contorno vermelho.
Suas mãos estão na cintura, traja uma saia preta com detalhes florais coloridos, um colete preto
com camisa de manga longa branca e na cabeça um lenço vermelho. A figura masculina,
também de meia idade, tem o corpo e cabeça voltados para a mulher. Ele veste calça preta,
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
casaco curto, também preto, com detalhes vermelhos. Seu braço direito está passado na
cintura da mulher. O casal repousa sobre piso quadriculado nas cores amarelo e marrom.
Analise Iconológica:
O painel ilustra o desejo de ser evidenciada a ascendência européia, já que possui 3,55
x 7,80m e está estampado na fachada frontal da residência, portanto aberto e exposto para a
rua. De herança portuguesa, o proprietário encomendou um mural que retratasse suas origens.
As figuras estão vestidas com trajes típicos da cidade natal do proprietário, os arcos fazem
alusão aos de um teatro existente em Lisboa e a edificação ao fundo em estilo clássico.
Conforme já descrito anteriormente, a figura central trata-se de um vendedor e remete a
importância do comércio para a família.
6.4. Painel Indígena Brasileiro: Praça Ronaldo Guerreiro, 743, Bairro Tabajaras
Descrição:
– Composição Figurativa De Produção Popular.
Fig. XIX Painel Indigena Brasileiro
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
O painel em pastilhas de vidro cobre toda a extensão do muro de 3,0m por 1,9m de
altura, sem a presença de moldura ou requadro. Podem ser percebidos três planos principais
nessa composição: o plano principal representa a terra com a figura dos índios; a água em
segundo plano; e mais ao fundo, o céu. Duas figuras principais representando os indígenas se
destacam na composição onde os cenários não são facilmente definidos. As árvores e o tronco
no chão, onde os índios se apóiam, ao mesmo tempo em que fazem parte da cena, tornam-se
um recurso do artista para emoldurar e delimitar a obra. Os cenários terra, água e ar se
misturam em um jogo sinuoso de cores e movimento, pois não existe nenhuma demarcação
clara entre eles.
Analise Iconográfica:
No primeiro plano de composição do painel destaca-se o casal indígena, composto por
pastilhas nas cores ocre, tons de vermelho e preto. Essas figuras se apóiam sobre um tronco de
pastilhas nas cores azul, preto, ocre e amarelo, e o índio, à esquerda, carrega nas mãos uma
flecha com um par de aves e um arco, representando um ato comum do seu cotidiano: a caça.
Este segura a índia pelo braço. Neste ponto, foram aplicadas pastilhas pretas, definindo o
contorno da mão, não permitindo que esta se misturasse ao braço dela. Neste mesmo plano a
vegetação é detalhada em tons de ocre, verde e vermelho, permitindo serem identificadas
árvores de grande porte, pequenas plantas, flores tropicais, a terra, cipós, as raízes das árvores
sobre a água e um caminho, que ali se inicia e se estende até o terceiro plano. Já o segundo
plano é menos detalhado, a massa vegetal é retratada por uma camada verde-claro uniforme e
se mistura à água, em um tom de azul que vai se tornando mais claro até assumir a posição de
céu. Este último plano só se torna perceptível devido à representação de dois pássaros brancos
e à presença de duas árvores menores, que dão a sensação de profundidade e demarcam o
limite entre a terra e o céu.
Analise Iconológica:
Mesmo, de acordo com Tadeu Chiarelli (2002), com uma parcela considerável de
artistas que vão deixando, a partir da década 50, de lado a necessidade preconcebida de
criação de uma arte nacional, a favor de uma produção disposta a se constituir através de um
dialogo direto com as questões da arte contemporânea internacional, percebe-se nesta obra,
ainda, a influência do ideal nacionalista. O tema indígena e a natureza tropical representam um
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
ideal, até romântico, de valorização do nacionalismo, que na arte brasileira direcionou vários
artistas. Ainda, conforme Chiarelli (2002), preocupados em constituir aprioristicamente uma arte
brasileira com características próprias, vários deles deixaram de dar vazão as suas
personalidades às questões inerentes à arte para se engajarem naquele programa.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
7. FICHAS DE INVENTARIOS DOS BENS
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
8. DOCUMENTACOES CARTOGRAFICAS
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
9. MAPA DE LOCALIZACAO DO MUNICIPIO
Uberlândia localiza-se na região nordeste do Triângulo Mineiro, no Estado de Minas
Gerais (Latitude: 18º55’23”S e Longitude: 48º17’19”W), em uma área territorial de 4.040 km2.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
10. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO
Tendo em vista o caráter de degradação em que se encontra o conjunto da obra
remanescente de Geraldo Queiroz e sua importância enquanto patrimônio histórico-cultural,
propõem-se as devidas medidas de conservação com base na análise do estado de
conservação de cada painel, através da realização de estudos preliminares com levantamentos
fotográficos detalhados, prospecções das áreas afetadas, identificação das patologias e análise
dos dados coletados, estabelecendo os parâmetros e critérios para elaboração de um projeto
de intervenção.
Para tal, propõe-se um projeto de restauro para que o conjunto tenha restituída a sua
integridade física e mantenham conservadas suas características originais, continuando a ser
referência para as próximas gerações. Deve-se primar por uma intervenção responsável e
crítica que preserve sua qualidade artística. Ressalta-se ainda a necessidade de uma equipe
qualificada para a realização do restauro, deixando o processo sempre a encargo de um
restaurador ou profissional com semelhante competência técnica. A restauração deve buscar
ainda, e primordialmente, a manutenção, sempre que possível, dos materiais e técnicas
construtivas originais.
Em caso de demolição ou irreversível degradação do sitio físico onde o painel se
encontra, deve-se primar por sua integridade e, mediante adequado diagnóstico do contexto,
realizar sua remoção para local que lhe forneça as condições de permanência e conservação.
Para tal, deve-se fazer o estudo de técnica de deslocamento adequada, mediante projeto,
estando este a encargo, também, de um restaurador ou profissional com semelhante
competência técnica. Caso a remoção não seja possível ou não se faça necessária, deve-se
propor um sistema de proteção do bem, também subordinado a estudo prévio e projeto.
Segue abaixo uma proposta de restauro, entre as demais possíveis, bem como uma
proposta para uma possível remoção, caso se faça necessário, embasadas nas análises de
cada obra e visando sua respectiva conservação.
10.1. Proposta Para Restauro: 25
25A metodologia aqui citada provém de um estudo do processo de restauração dos Painéis da Escola Edmundo Bitencourt, localizado no conjunto habitacional “Pedregulho” de Affonso Reydi – no Rio de Janeiro. Realizado pela instituição ÓPERA PRIMA Arquitetura e Restauro Ltda., à encargo do arquiteto e historiador Nelson Porto Ribeiro e das Restauradoras Patrícia Horvat e Myriam Pereira.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Tendo em base as analises do estado de cada bem em questão e visando a restituição
de suas características e qualidades originais e a geração de condições para a preservação da
integridade física dos painéis, propõe-se um roteiro para o restauro:
1. Divisão do painel em módulos de 1 metro quadrado (m2), com a ajuda de
barbante e fita crepe e numeração dos módulos.
2. Limpeza preliminar com detergente neutro e água, aplicados com escovas de
cerdas macias. Nas áreas de sujidade mais fortemente agregada, poderão ser usados
substancias abrasivas adequadas, desde que se verifique sua compatibilidade como o material
das pastilhas, afim de não danificar sua coloração.
3. Catalogação e enumeração das pastilhas de forma individual, seguindo um
mapa do desenho original.
4. Retirada de todas as pastilhas soltas e rachadas, enumerando-as.
5. Retirada das placas (módulos), com o auxilio de ferramental próprio, para
tratamento do mosaico.
6. Refazer toda a argamassa na parede suporte, com adição de consolidantes.
7. Tratamento das placas: limpeza da argamassa pulverulenta feita com escova
e talhadeiras delicadas, aspiração da poeira, usando também trinchas de cerdas macias para
retirada da massa solta, aplicação de resina com carga e consolidantes nas rachaduras,
colocação das pastilhas soltas, refazendo o desenho original, substituição das pastilhas
quebradas por pastilhas de semelhante qualidade e padrão estético; colocação de grampos de
cobre e recobrimento com tela plástica. Aplicação de nova argamassa aditivada com
consolidantes e hidrofugantes e devolução ao local original.
8. Recolocação de pastilhas nas juntas oriundas da retirada das placas e nos
vazios originais ou ocasionados pela retirada de pastilhas quebradas.
9. Obturação em resina nas pastilhas com pequenos danos.
10. Consolidação dos rejuntes e das áreas com risco de deslocamento.
11. Limpeza química minuciosa para retirada de fungos, e sujidades, aplicados
com swab, às vezes com auxilio de espátulas odontológicas.
12. Rejunte final em toda superfície do painel.
13. Limpeza à base de jato d´água com pressão de todo o painel, para retirada
de restos de argamassa.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Observações e considerações: as técnicas acima propostas constituem um
roteiro básico que visa auxiliar o processo de restauro. No entanto, este deve estar sujeito às
considerações e partidos do restaurador ou responsável pela recuperação da obra. O projeto de
restauração pode ou não utilizar-se das técnicas acima citadas, primando sempre pela
qualidade da intervenção. A areia que porventura vier a ser utilizada devera ser lavada e livre
de impurezas.
10.2. Proposta Para A Remoção E Transposição Dos Painéis:26
Caso haja necessidade de remoção e transposição de algum dos painéis para local
adequado (como já mencionado anteriormente), deve-se ter em conta o estado de conservação
do mesmo. Caso a obra ainda não esteja restaurada, o processo de revitalização da mesma
deve ser realizado, baseado nas proposições do item anterior ou em outras de projeto
adequado.
Deve-se primar, nesta proposta de técnica, a remoção integral do bem e sua dissociação
do elemento arquitetônico, transferindo-o para um suporte transportável sem divisões e com a
mínima interferência na condição original. Para isso, o suporte de transposição dever-se-á
estruturar e suportar o desmonte da base de sustentação sem que isso interfira em seu aspecto
e formas anteriormente presentes. Para a realização deste processo lista-se o roteiro:
1. A criação do suporte de transposição frontal rígido, que tem mais eficiência ao evitar
fissuras nas pastilhas.
2. Remoção das pastilhas do substrato original de assentamento, feita apenas após o
entelamento frontal, com sobrepostas camadas de tela de papel e malha plástica com
adesivo a base de PVA.
3. O entelamento deve ser estruturado por caibros aparelhados dispostos verticalmente em
espaços regulares galgados em tariscas dispostas horizontalmente ao painel, formando
uma malha rígida e indeformável.
4. Sobre o reticulado de madeira, deve ser construída uma estrutura metálica assentada
em rodízios, que possibilite o deslocamento horizontal do painel quando do seu
desprendimento mecânico do edifício.
26 Referência:A metodologia acima citada provém de um estudo do processo de remoção e transposição do MURAL “OS BANDEIRANTES” DE CANDIDO PORTINARI, localizado no Hotel Comodoro, na Avenida Duque de Caxias em São Paulo – SP, realizado pelo atelier Artístico Sarasá a encargo dos arquitetos Eliana Pavan Tassi e Arnaldo Domingos Sarasá Martins.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
5. Após a montagem deste sistema estrutural de suporte frontal, pode-se iniciar o
desmonte da parede de alvenaria que dava sustentação ao painel. A desmontagem
deve ser realizada de forma cuidadosa e em sucessivas camadas, devido ao
assentamento em amarração dos tijolos.
6. Alem dos tijolos, outras possíveis camadas de argamassa devem ser removidas para
acessar a parte posterior das pastilhas.
7. O processo de desmontagem terá sua conclusão quando da possibilidade de
afastamento horizontal do painel de seu local original, possibilitando a visualização da
totalidade do painel em sua forma negativa, ou seja, pelo lado inverso ao original.
8. Após o deslocamento horizontal do painel de seu local original, faz-se necessária à
criação de um novo sistema estrutural para substituir o original.
9. A nova base de sustentação è composta de duas partes, uma formada por chapas-
colmeias (horn comb), de uso em engenharia aeronaval, cuja função será substituir a
parede de sustentação, e a outra uma estrutura que uma as chapas para formar a nova
base com o dimensionamento total do painel.
10. Feita a transposição, cria-se um sistema de ancoragem das pastilhas à nova base de
suporte. Para tanto, deve-se escolher um aglutinante adequado. Deve-se primeiro colar
uma malha de fibra de vidro junto às tesselas, garantindo sua aderência.
11. Após a cura do sistema epoxídico, pode-se dar inicio à remoção do painel da edificação.
Observações: as técnicas acima propostas podem estar sujeitas à avaliação do
profissional encarregado do projeto, que devera primar pela melhor solução para a transposição
do mesmo, garantindo sempre sua integridade física. A areia que porventura vier a ser utilizada
na recolocação do painel devera ser lavada e livre de impurezas.
Ainda como diretrizes de conservação deve-se realizar:
• higienização periódica do painel com sabão neutro e água.
• proteção contra incêndio e umidade, calor e luz em excesso.
• remoção doe elementos estranhos que danifiquem o bem.
• uso de suportes e mobiliários adequados para tal.
Como conclusão das diretrizes é importante reiterar a participação e gestão
insubstituível de técnicos especializados. As decisões devem sempre levar em conta as analise
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
do estado da obra e primar por sua máxima preservação. As diretrizes devem ser aprovadas
pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.
11. LAUDOS TECNICOS27
11.1. Painel Sahteen
O painel foi encontrado em estado regular de degradação, devido principalmente às
infiltrações da parede em que se encontra, uma vez que esta não esta protegida das águas
pluviais, que escorrem livremente pela clarabóia. Este painel é o mais degradado dos quatro
painéis restantes do autor Geraldo Queiroz.
A infiltração ocorre na face posterior ao painel causando o desprendimento das pastilhas
em vários pontos da obra como também estufamentos. Os pontos de degradação mais
chocantes estão nas extremidades inferiores, onde está desenhado o gado, e no plano de
fundo, que constitui o horizonte da cena. Também foram encontrados pontos de
desprendimento de pastilhas opor todo o painel, vide documentação cartográfica da obra.
Outros causadores de degradação são as fezes de pombos e outros pássaros que pousam no
local, alem do descuido humano verificado pelos respingos de tinta encontrados em dois
pontos, na extremidade direita e outro na porção central do painel. Pode-se dizer que cerca de
30% da obra está em estado grave de degradação, correndo sérios riscos do aumento dessa
porcentagem se não tomadas às devidas providencias. Recomenda-se a restauração urgente
das pastilhas danificadas e substituição das partes perdidas, a sua manutenção periódica e a
construção de uma proteção para evitar que o sol e a chuva incidam no painel.
Todas as ações a serem realizadas devem seguir o plano de diretrizes de intervenção
explicitado neste dossiê.
27O Laudo técnico e detalhamento fotográfico do painel Cena Portuguesa não foi detalhado devido à impossibilidade de acesso ao mesmo.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Fig. X Painel Sahteen - Vista geral do painel com mobiliário do
restaurante.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de 2008.
Fig. XI Painel Sahteen - Vista do salão principal do restaurante
com painel ao fundo.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de 2008.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Fig.XII Painel Sahteen - Clarabóia e painel Geraldo de Queiroz
na lateral direita.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de 2008.
Fig.XIII Painel Sahteen - Ponto de degradação.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de
2008.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Fig. XIV Painel Sahteen - Ponto de degradação; desprendimento
de pastilhas e estufamentos.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de 2008.
Fig.XV Painel Sahteen - Ponto de degradação; desprendimento de pastilhas e
estufamentos no terceiro plano do painel.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de 2008.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
11.2. Painel Ciranda De Crianças
O Painel Ciranda de Crianças tem como motivo principal da sua degradação o local em
que se encontra e as constantes reformas e adaptações que este foi submetido ao longo do
tempo. O painel se encontra subdivido em três partes: uma menor a esquerda que está
enclausurada no interior de um pequeno shaft; a parte central, e também maior, que se
encontra num estreito corredor descoberto; e outra pequena parte a direita, localizada num
pequeno espaço coberto, separada da parte central do painel por uma pequena parede e porta
que antecipa a ampla sala onde se avista o painel apenas pelos vazados das esquadrias.
Com essas subdivisões o painel perdeu algumas faixas de pastilhas, no entanto, seu
restante se encontra em bom estado de conservação, com poucas pastilhas soltas ou estufadas
mas bastante sujo por estar num local sem uso e com pouca manutenção e limpeza.
Recomenda-se a restauração das partes perdidas pela ocorrente subdivisão do painel, a
reposição das demais áreas com perda de pastilhas e a limpeza urgente do local em que se
encontra.
Fig, XVI Painel Sahteen - Detalhe de um ponto de degradação:
desprendimento de pastilhas do painel.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Dezembro de 2008.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Todas as ações a serem realizadas devem seguir o plano de diretrizes de intervenção
explicitado neste dossiê.
Fig, XVII Painel Ciranda de Crianças – Sala que antecipa o corredor
onde se encontra o painel e vista do mesmo aos fundos.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro 2009.
Fig, XVIII Painel Ciranda de Crianças – Parte central no
painel localizado no estreito corredor descoberto.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Fig, XIX Painel Ciranda de Crianças – Lixo
encontrado no local, aos fundos a pequena
ante-sala coberta onde se encontra a
terceira parte do painel.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em
Outubro 2009.
Fig. XX Painel Ciranda de Crianças –
Corredor descoberto, aos fundos, pequeno
shaft onde se encontra a primeira parte do
painel.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em
Outubro 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
11.3. Painel Cena Portuguesa
Não foi possível fazer o laudo técnico deste painel uma vez que este se encontra 90%
encoberto por um mural fixo publicitário pertencente à empresa que utiliza o prédio atualmente.
Desse modo, foi impossível verificar o estado de conservação que o painel se encontra.
Recomenda-se a retirada do painel publicitário para efetuação do laudo técnico e
posteriores reparos.
Todas as ações a serem realizadas devem seguir o plano de diretrizes de intervenção
explicitado neste dossiê.
Fig. XXI Painel Cena Portuguesa – Vista do painel encoberto por mural
publicitário.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
11.4. Painel Indígena Brasileiro
Dos quatro painéis restantes do autor Geraldo Queiroz, o Painel Indígena Brasileiro é o
que está em melhor estado de conservação. Apesar de se encontrar totalmente em área
externa e assim, desprotegido das intempéries da natureza, são poucas as áreas de
degradação, sendo essas algumas pastilhas soltas, quebradas ou estufadas que se encontram
espaçadas por todo painel além do desbotamento natural das cores das mesmas. Também
foram observados alguns pontos com fezes de pássaros que pousam no local e respingos de
tinta, conseqüência do descuido humano com a manutenção do painel.
A parte posterior da parede em que o painel está situado encontra-se revestida em
textura grafiato, contendo também pontos com reparos em argamassa de cimento, o que
demonstra uma clara tentativa de conter as infiltrações sofridas pela desproteção do painel em
períodos chuvosos.
Recomenda-se a limpeza, a restauração das peças danificadas, a substituição das
partes perdidas e a manutenção periódica do painel.
Todas as ações a serem realizadas devem seguir o plano de diretrizes de intervenção
explicitado neste dossiê.
Fig. XXII Painel Cena Portuguesa – Detalhe da fixação do mural
publicitário que encobre o painel.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro de 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Fig, XXIII Painel Índios - Vista geral da edificação e painel na
extremidade esquerda do terreno.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro de 2009.
Fig, XXIV Painel Índios - Vista geral do painel na área externa em que se
encontra.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro de 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
12. PARECER DE TOMBAMENTO
Com o estudo acerca dos painéis em mosaico pastilhado do artista Geraldo de Queiroz,
localizados na cidade de Uberlândia – MG- pôde-se constatar e entender a importância dos
bens enquanto referencial iconográfico no imaginário cultural da cidade.
O conjunto formado pelos quatro painéis remanescentes constitui, através de sua
expressividade estética, das técnicas artísticas empregadas em sua composição e de sua
representatividade para a população, um elemento importante no traço do panorama da arte
moderna produzida no município na década de 1950. Além disso, ele compõe parte da obra de
um artista que tem grande relevância na história cultural de Uberlândia, representando a
memória e o imaginário de uma sociedade.
Sendo tal obra um elemento de referência e identidade artística e histórica do município
em questão e levando em consideração seus aspectos estéticos como expressão de uma
época, entendemos que este conjunto possui real necessidade de reconhecimento e
Fig, XXV Painel Índios - Ponto de degradação do painel – pastilhas
soltas e quebradas.
Fonte: Fotografia tirada pelo grupo em Outubro de 2009.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
preservação, pois reflete claramente um potencial como documento histórico que possibilita um
resgate da memória artística da cidade.
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
13. Ficha técnica
Realização
Prefeitura Municipal de UberlândiaPrefeito Odelmo Leão
Secretaria Municipal de CulturaSecretária Mônica Debs Diniz
Divisão de Memória e Patrimônio HistóricoDiretora Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes
Execução
Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e UrbanismoFaculdade de Arquitetura e Urbanismo e DesignUniversidade Federal de Uberlândia
Coordenação de Execução
Decorador Professor Juscelino Humberto Cunha Machado JuniorADET: 567001004184Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design - UFU
Colaboradores de Execução
Arquiteta Professora Marília Maria Brasileiro Teixeira ValeCREA: 4456 -DFaculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design - UFU
Historiadora Professora Josianne Francia Cerasoli Instituto de História - UFU
Apoio Técnico
Arquiteta Flávia FernandesFaculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design - UFU
Estagiários
Ana Paula Tavares - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design Bárbara Calaça- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design
Assinatura
______________________________ ______________________________ Juscelino Humberto Cunha Machado Junior Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Parecer Técnico de sobre o tombamento
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Parecer Técnico de membro do Conselho
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da Ata do Conselho de aprovação do tombamento provisório
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da notificação ao proprietário
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da notificação ao proprietário
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da notificação ao proprietário
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da notificação ao proprietário
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da Ata do Conselho aprovando o tombamento definitivo
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia do decreto de tombamento pelo Poder Executivo
Dossiê de tombamento: conjunto obra em mosaico de vidro Geraldo Queiroz
Cópia da inscrição do bem no Livro de Tombo